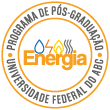Banca de QUALIFICAÇÃO: ANTONIA MABRYSA TORRES GADELHA
Uma banca de QUALIFICAÇÃO de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.DISCENTE : ANTONIA MABRYSA TORRES GADELHA
DATA : 24/04/2025
HORA: 14:30
LOCAL: A BANCA SERÁ REALIZADA NA MODALIDADE VIRTUAL
TÍTULO:
CASCA DE COCO BABAÇU COMO FONTE DE ENERGIA: degradação térmica por combustão e pirólise e viabilidade de produção de combustível sólido densificado
PÁGINAS: 97
RESUMO:
O aumento da demanda energética tem impulsionado os biocombustíveis sólidos como alternativa sustentável, aproveitando biomassas e resíduos para gerar calor e eletricidade. Briquetes são uma solução eficiente para armazenamento e transporte. No Brasil, a biomassa é amplamente utilizada, e há diversas fontes viáveis, como a casca do coco babaçu (CCB), que compõe 92% do fruto e é geralmente descartada. Nesse sentindo, entender o processo de conversão térmica a ser aplicado, até qual rota de conversão escolher, e; tornar-se competitivo dentro do mercado de bioenergia é necessário. Assim, está pesquisa teve como objetivo avaliar o processo de degradação térmica da combustão e pirólise da CCB, analisar a cinética da reação por meio dos métodos isoconversionais de Friedman, Ozawa – Flynn – Wall (OFW) e Kissinger – Akahira – Sunose (KAS), além de investigar a influência da granulometria da CCB e da pressão de compactação no processo de briquetagem para viabilizar a fase de armazenamento e transporte. O comportamento térmico da casca de coco babaçu (CCB) na combustão por meio da análise termogravimétrica (TGA) e Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), considerando a razão molar. De forma pioneira, aplicou-se a cinética por métodos isoconversionais (Friedman, OFW e KAS) para conversões entre 0.1 e 0.9, além da predição estequiométrica dos principais gases emitidos. O diagrama de Van Krevelen indicou H/C ≅ 1.3-1.8 e O/C ≅ 0.45-0.9. O FTIR confirmou grupos funcionais típicos de biomassas lignocelulósicas, com maiores intensidades acima de 3000 cm⁻¹ na fase in natura. As energias de ativação médias foram 152, 180 e 190 kJ/mol pelos métodos Friedman, KAS e OFW, respectivamente. A combustão da CCB gerou 21.05% de CO₂, sem SO₂ detectável e 244.69 mg/Nm³ de NO. A pirólise da casca de coco babaçu (CCB) foi analisada por termogravimétrica (TGA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). O estudo cinético, inédito, utilizou métodos não-isotérmicos (Friedman, OFW e KAS) para determinar a energia de ativação (E). As curvas térmicas indicaram três fases de decomposição: remoção da umidade, degradação de celulose e hemicelulose (150-300°C) e degradação da lignina (>300°C). Os valores médios de E foram 127.47, 164.7 e 175.5 kJ/mol para Friedman, KAS e OFW, respectivamente. Tanto para a combustão como para a pirólise, por serem estudos pioneiros, o confrontamento de resultados fez-se a partir de outras biomassas lignocelulôsicos, os quais são compatíveis, reforçando o potencial energético da CCB para bioenergia. Na fase de briquetagem, fez-se analisando a influência da granulometria da amostra e pressão de compactação na resistência mecânica, com experimentos complementares, como Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e predição de índices da reação de combustão. A análise morfológica confirmou o alto potencial da CCB para briquetagem devido à combinação de porosidade e alta densidade. Foram determinados índices de combustão, com combustibilidade de 5.828, CHO de 0.225 e valor de combustível de 4549.9 MJ.m³. Dos briquetes produzidos, o ensaio 2; com granulometria de até 7,5 mm e 115 bar de pressão, obteve a maior resistência (33 MPa), sendo o ponto ótimo de produção. A granulometria teve maior impacto na resistência mecânica, com efeito significativo combinado à pressão, explicando 83.3% da variação dos dados. Portanto, a CCB demonstra grande potencial como fonte bioenergética, além de contribuir para o desenvolvimento regional, já que é uma biomassa predominante da região norte e nordeste, que é frequentemente descartada.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - Interno ao Programa - 2605882 - JULIANA TOFANO DE CAMPOS LEITE TONELI
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 1548098 - GILBERTO MARTINS
Membro Titular - Examinador(a) Externo ao Programa - 1604317 - SONIA MARIA MALMONGE
Membro Suplente - Examinador(a) Interno ao Programa - 1977178 - REYNALDO PALACIOS BERECHE
Membro Suplente - Examinador(a) Externo à Instituição - KELLY CRISTINA ROSA DRUDI - UFABC